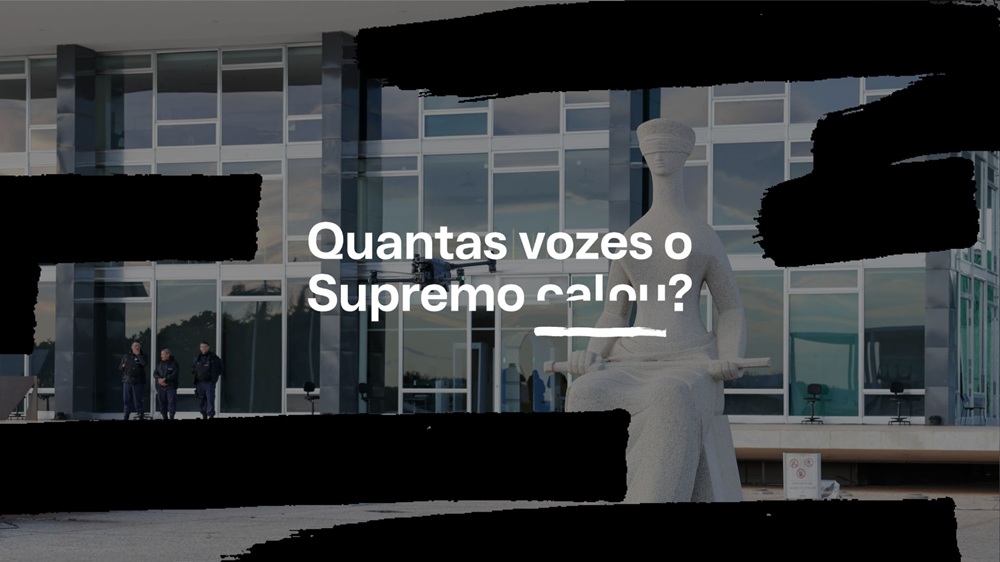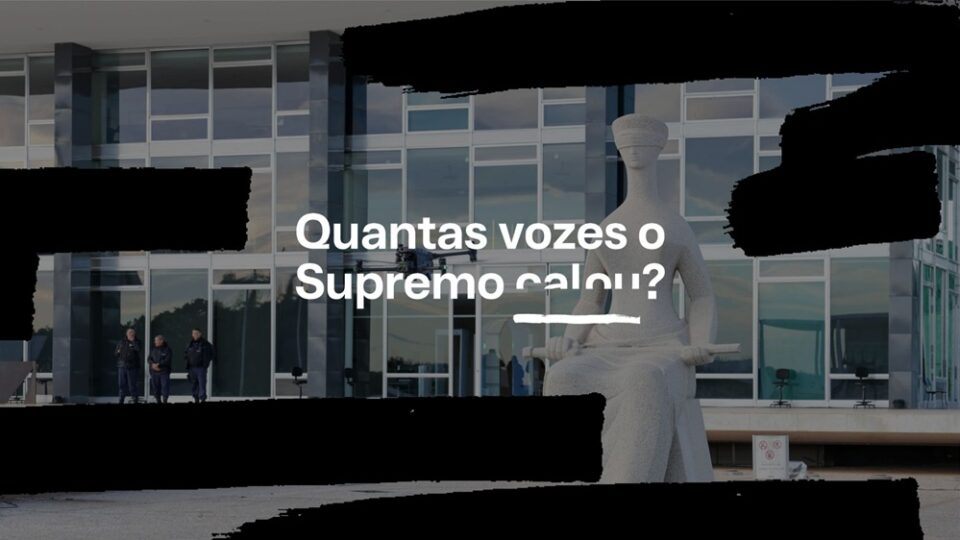
O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou, desde 2019, um repertório de termos que ganharam centralidade no debate público: “fake news”, “milícias digitais”, “desordem informacional”, “notícias fraudulentas”, “atos antidemocráticos”, “ameaça à democracia”, “fatos sabidamente inverídicos”, entre outros. São expressões elásticas, usadas em decisões e manifestações oficiais para tratar de condutas sem definição jurídica precisa.
O resultado tem sido um universo semântico que amplia a margem de arbítrio do Estado sobre a fala dos cidadãos. Em junho, na regulação que o STF fez das redes, um termo desse tipo foi incluído: “condutas antidemocráticas”, que as redes serão obrigadas a derrubar proativamente a partir de agora, sem necessidade de decisão judicial.
Um artigo publicado em abril deste ano na revista acadêmica Direito e Linguagem define essas expressões como “coringas semânticos”, “capazes de justificar qualquer suspensão de garantias, desde que inseridos no contexto de autopreservação da democracia”.
“A prática de apelar para o emocional ao dizer que ‘estávamos indo para o abismo’, que ‘o inquérito foi decisivo para salvar a democracia no Brasil’, de nomear a exceção como ‘proteção constitucional’, de tratar investigações inconstitucionais como ‘ações preventivas em defesa do regime democrático’, que ‘os poderes excepcionais foram importantes para aguentar o tranco do movimento antidemocrático’ e de qualificar perseguições políticas como ‘medidas técnico-institucionais’ revela a centralidade do eufemismo como operação simbólica. A exceção é, antes de tudo, semântica”, afirmam os autores Rodrigo Chemim, doutor em Direito do Estado e professor de Processo Penal da Universidade Positivo, e Fábio André Guaragni, professor da Unicuritiba e doutor em Direito das Relações Sociais pela UFPR.
O artigo – intitulado “Entre a Democracia Defensiva e a Filosofia da Linguagem: os usos eufemísticos do discurso jurídico no processo penal de exceção” – afirma que há uma “perversão filosófica que busca legitimar o que vem sendo feito” quando “o intérprete [os ministros, no caso] deixa de ser um mediador da linguagem constitucional e passa a ser seu autor”.
Por trás desse problema está, segundo os autores, o paradigma filosófico da consciência, que coloca “a experiência interior do intérprete como centro da significação jurídica” – isto é, as palavras assumem o significado que o juiz considerar mais adequado.
“O problema da filosofia da consciência, que é cartesiana, é acreditar que o sujeito pode se tornar senhor dos sentidos do mundo”, explica Chemim, em entrevista à Gazeta do Povo. “É o pior modelo de base filosófica para se construir o direito – e, no entanto, é o que tem norteado o Direito brasileiro há muito tempo.”
Chemim explica as origens dessa visão subjetivista do significado das leis. De acordo com ele, o modelo de interpretação judicial hoje dominante no Brasil tem raízes na chamada “escola do direito livre”, que legitima decisões baseadas em visões pessoais de justiça, e foi reforçado nos anos 1980 e 1990 pela difusão do “direito alternativo”, de base marxista, segundo o qual o juiz pode ignorar a lei sempre que ela contrariar seu ideal de mundo.
Essa prática – adotada por ministros do STF formados nesse ambiente – revela, segundo Chemim, uma adesão à filosofia da consciência, centrada na vontade subjetiva do intérprete. Para ele, essa noção precisa ser substituída por uma filosofia da linguagem, que imponha limites objetivos ao sentido das palavras da lei, para impedir decisões arbitrárias.
“Os ministros de hoje são fruto daquela época [final do século 20]. Alguns davam aula já naquele momento histórico, outros estavam assistindo às aulas. Saíram da faculdade ou construíram a sua carreira acadêmica acreditando nestas ideias, como a de que o bom jurista é aquele que, toda vez que encontra o Direito colidindo com o seu ideal de justiça, faz justiça. O problema é que você tem 11 juízes ministros do Supremo fazendo justiça, cada um com seu modo de enxergar o mundo. Só que o Direito não pode ser isso.”
Na própria instauração do inquérito das fake news em 2019, o então presidente da Corte, Dias Toffoli, introduziu expressões vagas que abriam brecha para interpretações elásticas. O pretexto para a abertura do inquérito de ofício foi “a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus calumniandi, diffamandi e injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal”.
Chemim não descarta a possibilidade de que existissem, de fato, crimes contra a honra de ministros, mas ressalta que, nesse caso, a resposta legal prevista não passaria pelo STF, mas sim por um processo na primeira instância relacionado a crimes contra a honra. “A solução disso existia, e não era no Supremo. Era no juiz de primeiro grau. Mas os ministros fizeram um esforço gigantesco para dar um ar de legitimidade àquilo, com uma retórica assustadora”, afirma.
Para ele, essa falta de objetividade destrói a confiança, que é “a cola de uma sociedade democrática”. “Os próprios ministros tinham que ter o cuidado de saber que, quando eles extrapolam os limites hermenêuticos, historicamente consolidados, de regras e garantias constitucionais – como têm feito sistematicamente de 2019 para cá –, eles esgarçam o processo democrático. Eles contribuem para aumento de desconfiança institucional.”
Linguagem da doutrina do Direito também é manipulada para justificar arbitrariedades
O uso estratégico da linguagem não se limita às expressões criadas para nomear condutas. Conceitos da própria doutrina jurídica também têm sido distorcidos para legitimar práticas de exceção e proteger decisões dos ministros.
Um exemplo disso, segundo Chemim, é a apropriação do conceito de “democracia defensiva”, que tem sido usado para justificar censuras e perseguições políticas.
A expressão, resgatada da doutrina alemã da década de 1930, foi empregada em decisões do ministro Alexandre de Moraes, assim como a ideia de “Estado de exceção em legítima defesa”. “Eles vão criando chavões. ‘Estado de exceção em legítima defesa’, ‘democracia defensiva’. Isso é brincadeira… Tem jurista que escreve isso aí com pretensão de seriedade”, ironiza.
Na avaliação de Chemim, essas expressões cumprem o papel de mascarar o que ele identifica como um “direito penal do inimigo”, teoria elaborada pelo alemão Günther Jakobs segundo a qual certos indivíduos, por serem considerados inimigos do Estado, não merecem as mesmas garantias legais que os demais.
Isso, segundo Chemim, acabou ficando claro nas próprias palavras do ministro Alexandre de Moraes na sessão plenária do STF de retomada dos trabalhos da Corte no segundo semestre. “Jamais faltou e jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, inimigos da democracia e inimigos do Estado de Direito”, afirmou Moraes.
“O ministro da Suprema Corte não pode atuar no contexto de um processo dizendo que ele está atuando contra inimigos”, critica Chemim.
A multiplicação dos eufemismos, segundo o jurista, não altera a natureza dos atos praticados. Citando “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare, ele afirma: “A rosa é uma rosa, não importa o nome que eu dê para ela. Eu posso até mudar o nome da rosa, para chamar de ‘democracia defensiva’, ‘Estado de exceção em legítima defesa’. Mas aquilo que de fato é um direito penal do inimigo continuará sendo”.
Fonte. Gazeta do Povo