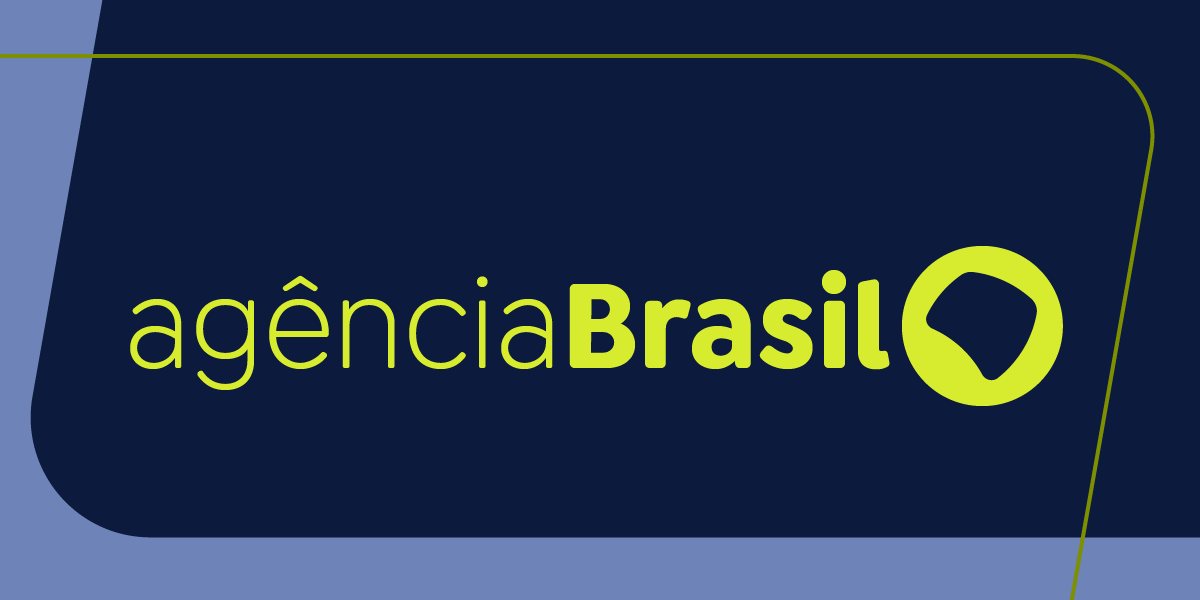Crédito, Getty Images
- Author, Vinícius Mendes
- Role, De São Paulo (SP) para a BBC News Brasil
No clássico O Espírito das Leis, de 1748, o Barão de Montesquieu (1689-1755) apresentou argumentos sobre a biologia humana para afirmar que pessoas em países frios teriam maior predisposição ao trabalho, ao contrário daquelas em locais mais quentes.
“O ar frio encolhe as extremidades das fibras exteriores do corpo, aumentando a elasticidade e favorecendo o retorno do sangue ao coração. Então, eleva a sua força. Já o ar quente, ao contrário, dilata as extremidades das fibras e as alonga, diminuindo a força e elasticidade”, escreveu o francês no livro, que acabou mais conhecido e importante para o estudo da formação das instituições nacionais.
O filósofo também argumentou que, por precisarem se esforçar para viver em condições climáticas mais adversas, as populações das partes mais frias do globo — como a Europa Ocidental, de onde ele escrevia — teriam populações mais “corajosas”.
Já em nações quentes, o “homem se sente fraco, desencorajado de alma, sentindo que não pode fazer nada”, teorizou Montesquieu, acrescentando que o clima quente estimularia a preguiça e o “prazer fácil”.
Estudioso da ciência política dos séculos 17 e 18, o filósofo Renato Janine Ribeiro pondera que, embora a discussão entre riqueza e clima muitas vezes se ampare no eurocentrismo — quando não em racismo —, é preciso considerar o contexto histórico de obras como a de Montesquieu e de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), de quem foi contemporâneo.
“Não tem como fazer qualquer tipo de leitura, com as ferramentas de hoje, de um autor do século 18 — e mesmo se isso fosse possível, a análise de Montesquieu tem aspectos riquíssimos sobre como os países têm contextos diferentes por causa da temperatura. Não era trivial que países mais quentes também tivessem mais governos autocratas, por exemplo”, aponta Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação (2015) e professor aposentado da Universidade de São Paulo (USP).
A discussão sobre clima, riqueza e desenvolvimento é “intrigantemente atual”, acrescenta o professor.
O economista Victor Rangel que o diga.
Pesquisador no Insper, em São Paulo, ele publicou há quase ano no Instagram um pequeno vídeo como se duas versões diferentes suas discutissem um gráfico que havia viralizado na rede social X.
Esses gráficos mostravam, justamente, a correlação entre clima frio e produtividade. O post explodiu, passando de 100 mil curtidas.
“É engraçado como essa pergunta ficou tão ‘pop’ nos últimos tempos, mas também não me é surpreendente: afinal, a economia sempre tentou explicar por que os países são desiguais — e há um monte de respostas para isso.”
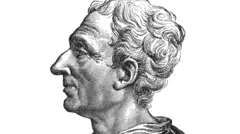
Crédito, Getty Images
Tão intrigante quanto a pergunta, segundo Rangel, é a constatação de que, realmente, existem correlações entre o clima e indicadores de desenvolvimento nacionais.
“Se cruzarmos os dados das temperaturas dos lugares com o PIB [Produto Interno Bruto] per capita deles, por exemplo, é possível ver nitidamente que existe uma relação negativa [isto é, uma queda da produtividade em países mais quentes]. Isso reforça o interesse pela discussão”, afirma o economista.
Apesar de alguns indicadores objetivos parecerem apoiar a hipótese de que países frios são mais ricos e quentes mais pobres, especialistas entrevistados pela BBC News Brasil dizem que há vários outros fatores a serem levados em conta na discussão, como o histórico de colonização e investimentos em educação.
Alguns indicadores dizem que sim…
Fato é que grande parte dos estudos que se debruçaram sobre essa questão encontraram dados que comprovam a correlação entre riqueza e frio.
O próprio PIB per capita — que mede o quanto cada pessoa de um país receberia se a riqueza total dele, medida pelo PIB, fosse compartilhada individualmente — indica diferenças significativas a partir do clima.
O PIB per capita da União Europeia era de US$ 41,4 mil em 2023, pelos cálculos do Banco Mundial.
Os países que compõem o bloco se situam em regiões de climas bastante distintos entre si, mas, de acordo com o Programa Copernicus, a média anual da região é de 12 ºC.
Essas diferenças se fazem notar dentro do bloco: a Noruega, onde a temperatura média mais alta é de 16 ºC, nos verões, teve um PIB per capita de US$ 87,9 mil em 2023.
Já na Espanha, onde esse indicador foi de US$ 33,5 mil, o clima médio anual passa dos 21 ºC, chegando a 30 ºC em julho e agosto.
Um está no norte gelado e outro, na Península Ibérica temperada.
Já na América Latina e no Caribe, onde a maior parte é mais quente do que a média europeia, o PIB per capita foi de US$ 10,7 mil em 2023.
Um mapa com diferentes cores para níveis de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por país também mostra, em linha gerais, uma correlação.
Esse índice tem uma escala de 0 a 1, onde 1 é o nível mais alto.
Tendo o azul mais escuro para classificar os IDHs mais altos e o vermelho para os mais baixos, vê-se uma mancha mais escura nas extremidades do planeta, mais distantes da linha do Equador — incluindo países como Estados Unidos (0,94), Reino Unido (0,95), Suécia (0,96) e Chile (0,88).
Já nas áreas mais próximas à linha do Equador, as cores são em geral mais claras, indicando IDHs mais baixos, como Sudão do Sul (0,39), Afeganistão (0,5), Índia (0,69) e Honduras (0,65).
O Brasil tem IDH de 0,79. Os dados são do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, na sigla em inglês), referentes a 2023.
Usando indicadores de 166 países entre 1960 e 2010, os autores descobriram que os países que já são mais frios tendem a chegar ao pico de sua produtividade quando a temperatura atinge os 13ºC.
Isto é, quando um país sai de um período cujo clima é abaixo de 13ºC, é apenas quando o atinge que também chega ao ápice da sua capacidade produtiva.
Na mesma direção, dizem os autores, a “produtividade cai gradualmente à medida em que esquenta, e isso se acelera a partir de temperaturas mais altas”.
Entretanto, eles reconhecem que distintos fatores impactam a produtividade dos países.
O artigo é de autoria de Solomon Hsiang, da Universidade Stanford, e Edwarg Miguel, da Universidade da Califórnia em Berkeley, além do geocientista Marshall Burke, também de Stanford.
Ao final do artigo, Hsiang, Miguel e Burke sugerem que os efeitos das mudanças climáticas, que devem aumentar a temperatura média de muitos lugares do planeta nos próximos anos, serão especialmente perversos para alguns países.
Isto porque mesmo o acúmulo de experiências, tecnologias e até de riquezas não vão evitar que os níveis de produtividade caiam em meio aos dias mais quentes.
… mas especialistas dizem que não é bem assim
Se os números parecem falar por si mesmos, especialistas ouvidos pela reportagem, sobretudo economistas, são mais ponderados quanto à hipótese.
“É que correlação não significa causalidade — e, na economia, considerando que nunca acessamos o processo, mas apenas o resultado final dele, é preciso tomar muito cuidado com isso”, observa Rangel.
Causalidade diz respeito a relações em que é possível provar uma ligação de causa e efeito. A correlação é uma conexão entre duas coisas, mas não necessariamente com causalidade.
Para Rangel, não é possível discutir esse assunto sem levar em conta a colonização europeia a partir do século 16: parte dela mais voltada para a extração de recursos, como no Brasil e várias nações africanas; e parte dela mais voltada para a habitação, como nos Estados Unidos e Austrália.
“Nos países onde [os colonizadores] iriam se estabelecer, foram criadas instituições mais inclusivas. Foram essas nações que se desenvolveram. Esse eco histórico é fundamental. Não tem nada a ver com o clima”, continua.
A economista Silvia Matos, professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), endossa essa interpretação, voltando-se ao caso americano.
“Se você pegar todos os personagens da independência [dos EUA], eles estavam pensando em educação, tinham uma visão de mundo de fazer o melhor para a sociedade — e isso se traduziu em educação, que é vital para a produtividade”, diz.
“No Japão, por exemplo, educação era fundamental já na Era Meiji [1868-1912]. Em Portugal, se você olhar certos períodos do século passado, o analfabetismo ainda era igual ao do Brasil.”
Por muito tempo, historiadores tenderam a concordar, de uma forma geral, com a divisão entre colônias de povoamento e de exploração. Mas os debates contemporâneos têm colocado novas perguntas frente a esse consenso.
“Até porque, via de regra, toda colônia é de exploração. Ela serve para a metrópole explorar recursos que não dispõe ou para criar um mercado consumidor”, observa Nathália Silva, historiadora e pesquisadora da USP.
“Essa diferença entre dois projetos diferentes de colonização acabou se cristalizando no ensino de História, mas não é necessariamente assim”.
Por outro lado, pontua Silva, é fato que algumas colônias tinham mais condições de fornecer mercadorias “exóticas”, isto é, que as metrópoles eram totalmente incapazes de produzir — como o açúcar, no caso do Brasil — do que outras.
Essa era a atratividade de regiões tropicais, por exemplo.
“Além disso, as sociedades colonizadas tinham dinâmicas que não podiam ser transplantadas para os colonizadores, porque gerariam atritos graves, como a escravidão. Isso tudo explica o motivo da Europa ter mantido suas colônias no Caribe e na América do Sul”, acrescenta a historiadora.
A análise sobre a formação dos países vai ao encontro de um dos livros mais reconhecidos do campo econômico no século 20: Por que as nações fracassam, publicado em 2012 pelos economistas Daron Acemoglu e James Robinson.
Eles lecionam, respectivamente, no Massachusetts Institute of Technology (MIT) e na Universidade de Chicago.
Bruno Mader, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Política Econômica pela Universidade de Genebra, resume alguns dos argumentos de Acemoglu e Robison.
“Eles enfatizam como nações que tiveram instituições mais inclusivas, mantendo garantias legais e respeitando uma série de direitos, como o de ter uma propriedade, por exemplo, acessaram os mercados globais com mais facilidade e, então, se desenvolveram melhor”, diz o pesquisador.
“Em países com instituições extrativistas, dizem eles, elites tomaram o controle dos recursos e passaram a tomar decisões baseadas apenas nos seus próprios objetivos, e não no desenvolvimento nacional. Essa é a grande diferença”.
“O clima não é uma variável que deve ser considerada.”
A diferença está, dizem os economistas, na participação social sobre as decisões.
Países extrativistas, muitas vezes ricos em matérias-primas, são aqueles cujo poder de decisão sobre o que fazer com elas se concentra na mão de poucas pessoas — partidos políticos, famílias, grupos, etc.
Boa parte dos países do continente africano, mesmo depois das independências, exemplifica esse fenômeno. Como o fluxo de recursos consequente dessa extração também é concentrado, o país permanece pobre, enquanto uma pequena elite enriquece.
Do outro lado, instituições inclusivas, ao garantir o acesso das populações às decisões, tendem a ter mais dinamismo econômico porque há uma repartição desses recursos.
Acemoglu e Robinson sugerem que, nesses casos, os bancos costumam oferecer juros mais justos, as leis são criadas com base em demandas comuns e os projetos, por consequência, atacam problemas coletivamente percebidos.
Um exemplo disso, para os economistas, é a Austrália.
Acemoglu e Robinson também falam no “paradoxo da abundância”: nações ricas em recursos naturais tendem a produzir ao longo do tempo, justamente, instituições mais extrativistas.
Isso acontece porque, diante da facilidade de escoar as commodities no mercado internacional, essas riquezas se concentram nas mãos de pequenos grupos locais.
O resultado é que, sem investimentos robustos em outros setores, esses países não se desenvolvem — apenas uma pequena elite enriquece.
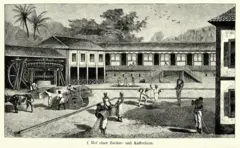
Crédito, Getty Images
O próprio Daron Acemoglu se debruçou sobre o caso brasileiro em entrevista ao site Brazil Journal em 2022.
O economista destacou que a experiência de bonança econômica no início do século 21 e a crise na década passada foram resultados das transformações que os mercados globais passaram nesse período — sem que o Brasil aproveitasse o bom momento para tornar suas instituições mais inclusivas, ampliar investimentos em áreas vitais para o desenvolvimento e diversificar sua economia, que se manteve profundamente exportadora.
“Como a indústria e os serviços vão se tornar produtivos e competitivos? O Brasil não vai se tornar um país de renda média-alta só vendendo recursos naturais para a China”, disse ele.
Silvia Matos também cita a Austrália, que foi uma colônia inglesa, tem agropecuária forte, mas não uma indústria forte.
“Mas, desde cedo, foi um país que construiu instituições igualitárias, criando incentivos corretos tais como educação e inovação. É isso que faz um país mais produtivo do que outro, enfim”, conclui.
O que é ser desenvolvido?
Enquanto isso, historiadores questionam não apenas a estrutura do argumento de que o frio favoreceria a riqueza, mas a própria lógica do que é desenvolvimento.
Horácio Gutiérrez, do Departamento de História Social da USP, destaca que, antes da invasão europeia à América Latina, os povos nativos já eram no mínimo tão prósperos quanto os reinos da Europa, se levarmos em conta os padrões de prosperidade utilizados hoje.
“No apogeu das civilizações da chamada Mesoamérica, hoje compreendida por parte do México e da América Central, por exemplo, só a cidade de Teotihuacán tinha 50 mil pessoas. As avenidas eram todas pavimentadas, existia um imenso sistema de drenagem, pirâmides, palácios e uma estrutura de governantes, além de um exército formado, uma agricultura assentada e um comércio que atingia localidades distantes”, afirma Gutiérrez.
O antropólogo Dario Mayta, da Universidade de Munique, lembra que nações tão diferentes como a Índia, África do Sul ou países do Sudeste da Ásia não experimentaram os mesmos níveis de desenvolvimento de quem os colonizou.
“É muito difícil que um país se desenvolva se ele tem que lidar com impactos causados por séculos de pilhagem colonial. A exploração dos recursos que eles possuíam fez com que eles largassem atrás a cada transformação produtiva global”, analisa Mayta.
“Sem contar que esses recursos foram utilizados para desenvolver a Europa”.
A baixa inserção de pessoas negras no trabalho formal do Brasil é um dos inúmeros exemplos desse impacto.
“A diferença que se nota no PIB per capita, por exemplo, só pode ser entendida a partir das diferenças estabelecidas durante a Revolução Industrial — que, de fato, impulsionou a Europa. Mas a própria revolução só existiu com base na riqueza que esses países conseguiram produzir nas suas colônias”, prossegue Mayta.
“Uma vez estabelecida, a Revolução Industrial precisou dessas mesmas colônias para desaguar seus produtos manufaturados. Não faz sentido considerar as desigualdades globais hoje sem contar a história da colonização”.
Países quentes — e ricos

Crédito, Getty Images
Talvez, ao chegar até aqui, você tenha pensado ao longo do texto: há vários países ricos e quentes no mundo, e o contrário também.
Mas alguns ricos não têm as instituições inclusivas abordadas por Acemoglu e Robinson, como o Catar e a própria Arábia Saudita, governados por famílias ou emires — com grande concentração de poder.
No Catar, o PIB per capita foi de US$ 80,1 mil em 2023, de acordo com os dados do Banco Mundial. Quase o mesmo que o da Noruega, já citada.
A temperatura média, no entanto, é bem maior: 26ºC, com dias que batem os 45ºC.
Mas Rangel questiona o que seria desses países caso não tivessem encontrado petróleo em seus territórios.
“Pensar assim, em termos contrafactuais, permite notar como o crescimento econômico deles não é de longo prazo. A tese [das instituições inclusivas] se mantém, porque até pode ter a commodity, mas não há incentivos para desenvolver riquezas além dela”, diz ele, para adicionar outro exemplo, o das duas Coreias.
“Antes de se tornarem dois países, elas eram parecidas: língua, clima, solo. Mas depois da separação, fica muito claro como a Coreia do Norte continuou pobre e o Sul cresceu imensamente”.
Silva Matos, da FGV-SP, traz outro exemplo: Botsuana.
O país situado no coração da África Austral tem um PIB per capita maior do que seus vizinhos — US$ 7,8 mil, enquanto na Namíbia, a oeste, o valor é de US$ 4,1 mil e no Zimbábue, a leste, US$ 2 mil.
“Aconteceu por causa do primeiro presidente do país [Seretse Khama] que, depois de se formar na Inglaterra, investiu muito na educação ao invés de dividir as riquezas do país com seus amigos”.
Em O Espírito das Leis, Montesquieu faz questão de lembrar da China, um país que, segundo ele, tem tanto climas frios quanto quentes.
Para o filósofo, seria natural que as populações das regiões mais áridas caíssem servas daquelas mais geladas.
Escreveu ele que, no país asiático, o “descanso é tão delicioso e o movimento tão penoso que o sistema de metafísica parece natural”.
Com esse trecho em mãos, Bruno Mader, da UFRJ, brinca.
“É aqui que você vê o erro”, diz.
“Tudo o que não podemos falar da China, pelo menos hoje, é que ela é um lugar de ‘descanso'”.
Fonte.:BBC NEWS BRASIL