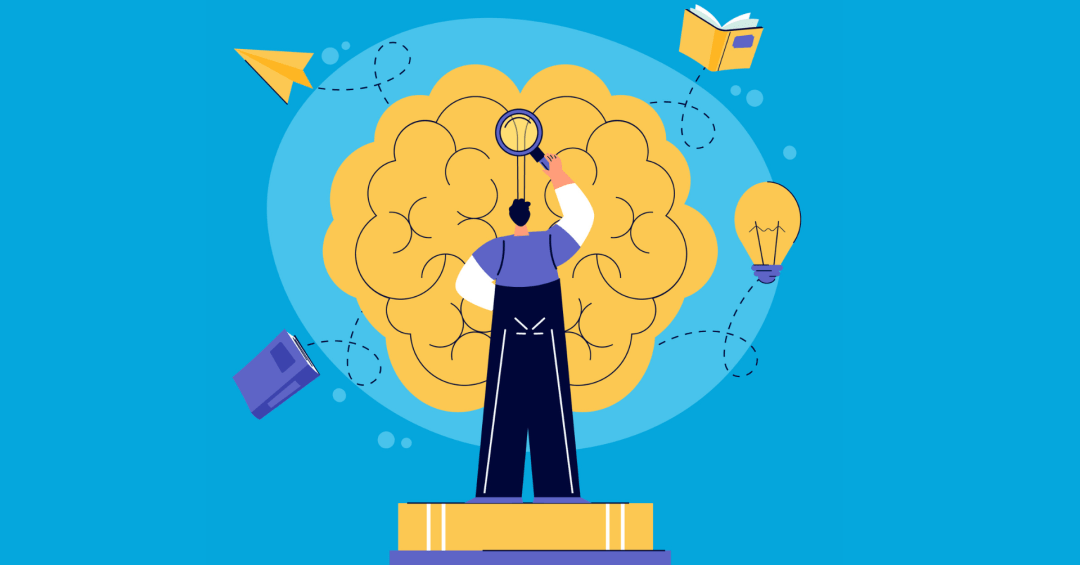Quem via Shirley Araújo Thomas empenhada no fortalecimento dos povos indígenas, nem imaginava que havia poucos anos que entendeu suas raízes. Filha de pai e mãe do povo baré, foi criada com mais três irmãos entre Manaus, sua cidade natal, e Barcelos (AM). Longe de seu povo, não aprendeu os costumes de sua etnia.
Foi apenas aos 18 anos que iniciou o caminho de retomada. Passou a visitar o Parque das Tribos, ocupação onde conheceu a trajetória dos seus antepassados vindos da região do rio Negro. Soube da luta para manter a cultura e o resgate da língua nheengatu, então passou a aprender cada detalhe com muito interesse. Parecia ter se encontrado no mundo.
Mas os comentários sobre sua aparência a abalaram. Fora dos estereótipos estéticos que o mundo estabelece para indígenas, tinha cabelo cacheado e rosto não achatado. E, mesmo com o reconhecimento das lideranças sobre sua identidade, ficava desconfortável.
“A gente conversava muito com ela sobre isso. Não adianta a gente falar e lutar, as pessoas vão sempre duvidar do que a gente é”, diz a tia Cláudia Baré, 47, sua confidente.
A jovem trazia na bagagem outras dores. Um de seus irmãos, que tinha hidrocefalia, morreu aos sete anos. A separação dos pais e outras relações familiares também ficaram marcadas, além de muitas mudanças de cidade.
Essas memórias eram colocadas no papel, nos muitos escritos que gostava de fazer ou traduzidas em forma de pinturas.
Sua aproximação com as artes ficou cada vez mais intensa, principalmente ao entrar para o movimento hip-hop, onde fez muitos amigos. Era sua fuga. Criavam lambe-lambes, grafite e outros projetos de intervenções visuais.
Passou a aprender artesanato e, trabalhando com miçangas, fazia pulseiras para tirar seu sustento. Com a tinta feita do jenipapo que utilizava para pintar a pele, também customizava roupas para comercializar.
Durante a pandemia, junto com a tia e uma prima, criaram a Suri Arts Baré, uma marca de máscaras com grafismos indígenas.
Também atuou como fotógrafa fazendo registros para instituições indígenas
No parque, também colaborava na educação das crianças, ajudando a tia no Espaço Cultural Indígena Uka Mbuesara Wakenai Anumarehit. Organizava ações e buscava parcerias. Lá, ficava horas sentada no chão brincando com os pequenos.
Passou a ensinar outras pessoas a fazer artesanatos e também falar sobre reconhecimento étnico, assim tornou-se conhecida no movimento juvenil indígena. Chegou a participar do Acampamento Terra Livre e da Marcha das Mulheres em Brasília.
“Acho que ela foi uma conexão de mundos. Muita gente assumiu a sua identidade a partir do que ela falava dessa parte de pertencimento étnico”, afirma a tia.
Morreu no último 1º de dezembro, aos 27 anos, em um hospital. Deixa a mãe, Janice, 49, o pai, Carlos, 60, a irmã, Janaína, 31, e o irmão, Carlos Júnior, 23.
Fonte.:Folha de S.Paulo