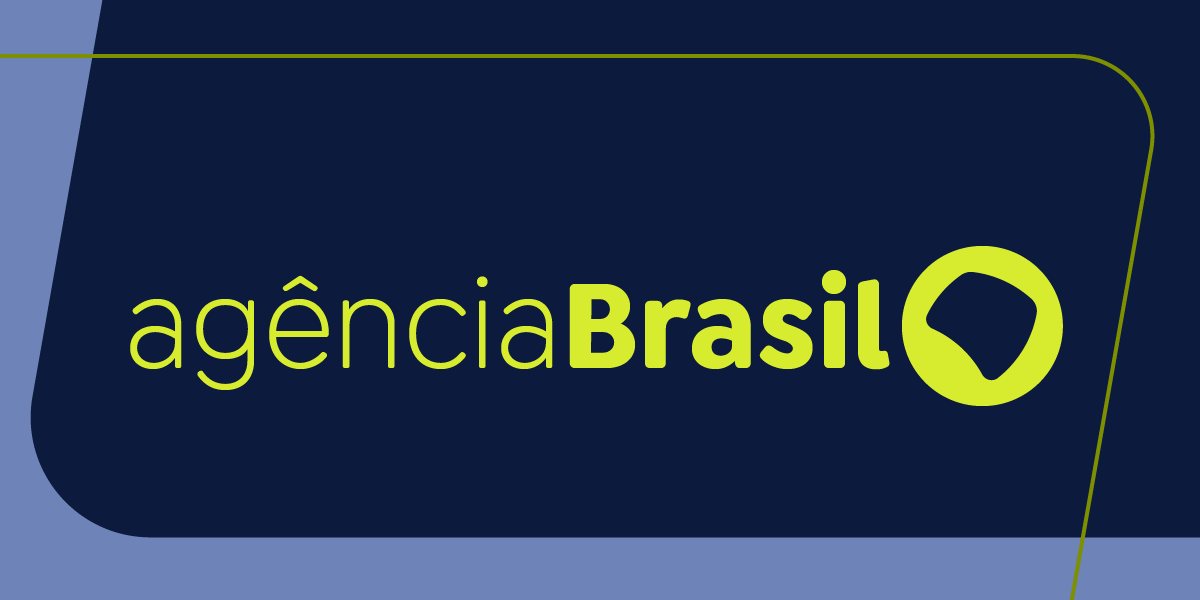Lançado em 2010, o livro “A Queda do Céu” foi escrito pelo antropólogo Bruce Albert. Bruce traduziu para o francês o depoimento do xamã yanomami Davi Kopenawa, sobre temas como a destruição ambiental e o futuro da humanidade.
Agora nos cinemas, “A Queda do Céu” é a adaptação do livro, realizada pelos diretores Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha.
Logo na abertura, os dois deixam claro quem são os protagonistas. Kopenawa e outros indígenas aproximam-se da câmera. O ritmo não é rápido, nem lento. É um tempo cósmico, um transe.
No princípio era o verbo. E os verbos de Kopenawa vêm todos em yanomami. “A Queda do Céu” não fala português. Somos espectadores de um Brasil oculto, narrado em língua indígena.
O documentário “Ex-Pajé“, de 2018, de Luiz Bolognesi, também deu voz aos povos originários. O filme acompanhou o xamã Perpera e a evangelização dos Paiter Suruí, de Rondônia.
Bolognesi viajou entre a ficção e a realidade. No lado da realidade, uma cena é emblemática. Um rapaz só consegue dormir de luz acesa. Tem medo da vingança dos seres da floresta, revoltados com a religião que foi trazida pelos brancos.
O mesmo não acontece em “A Queda do Céu”. A proposta é outra, transmitir a sabedoria yanomami para o planeta. O evangelizado vira o evangelizador.
Escutamos a bonita poesia de que mulheres e homens vieram da vagina da mãe Terra. Os antepassados foram mortos pelos napë, os homens brancos. Para honrar os antepassados, pratica-se o ritual Reahu. Os vestígios dos mortos são queimados através do fogo. Os xamãs alcançam a iluminação através de substâncias como a yākoana.
“Quando os yanomami acabarem, o céu cairá”, diz Kopenawa. Os espíritos superiores castigarão os brancos pelo extermínio indígena. O fim do povo escolhido levará ao fim dos não escolhidos.
Mas há também autocrítica, ingrediente ácido, e pouco explorado, no filme. Davi Kopenawa confessa que já imitou os brancos no passado. Os jovens da aldeia usam camisa falsificada da Gucci e guardam celular no short.
“A Queda do Céu” conta, portanto, a guerra entre universos que não se entendem, mas convivem. Xamãs falam em rádios, garimpeiros usam terras sagradas. O próprio filme é o produto do capitalismo que faz a intermediação dos sonhos.
Gabriela Cunha e Eryk Rocha são napë encantados com as pessoas que encontram. Grandes rituais e momentos do cotidiano surgem delicados, como um sopro. Os verdadeiros protagonistas estão livres, na frente da câmera. Se estivessem atrás dela, como diretores, teríamos outro filme.
O fato é que Davi Kopenawa transporta o público para um lugar incógnito. Não são lendas, são explicações diferentes para mistérios como a vida e a morte.
Em “Transeunte“, de 2010, Eryk Rocha mostrou o idoso que sofria no cemitério, lembrando da esposa. Em “A Queda do Céu”, Rocha e Gabriela Cunha apresentam famílias indígenas com medo de perder os filhos. Tão longe e, ao mesmo tempo, tão perto dos dramas de qualquer família.
Vale lembrar que enquanto a ditadura militar construía a Transamazônica, os diretores Jorge Bodansky e Orlando Senna dirigiam “Iracema, uma Transa Amazônica“, em 1974. Por essa época surgiu boa parte dos problemas denunciados por “Ex-Pajé” e “A Queda do Céu”. Foi a farra dos grileiros, a destruição de ecossistemas, a urbanização forçada.
Cinquenta anos depois, a miséria de “Iracema” retornou em “Manas”, de Marianna Brennand. Os dois filmes tratam da região norte do país, dentro ou fora de reservas indígenas, quando nem sempre existe final feliz.
Mário de Andrade ouviu histórias dos povos taulipang e arekuná. Escreveu sobre Macunaíma, o trickster que tinha problemas com os irmãos. Ao parar no cinema em 1969, o anti-herói foi recriado por Joaquim Pedro de Andrade, no filme de mesmo nome.
“A Queda do Céu” traz mais um capítulo da herança indígena no cinema brasileiro. Os diretores servem de mensageiros para uma experiência religiosa, ao contar o mundo pelo olhar dos yanomamis. E assim fazem, acreditando piamente, despidos de dúvidas.
Fonte.:Folha de S.Paulo