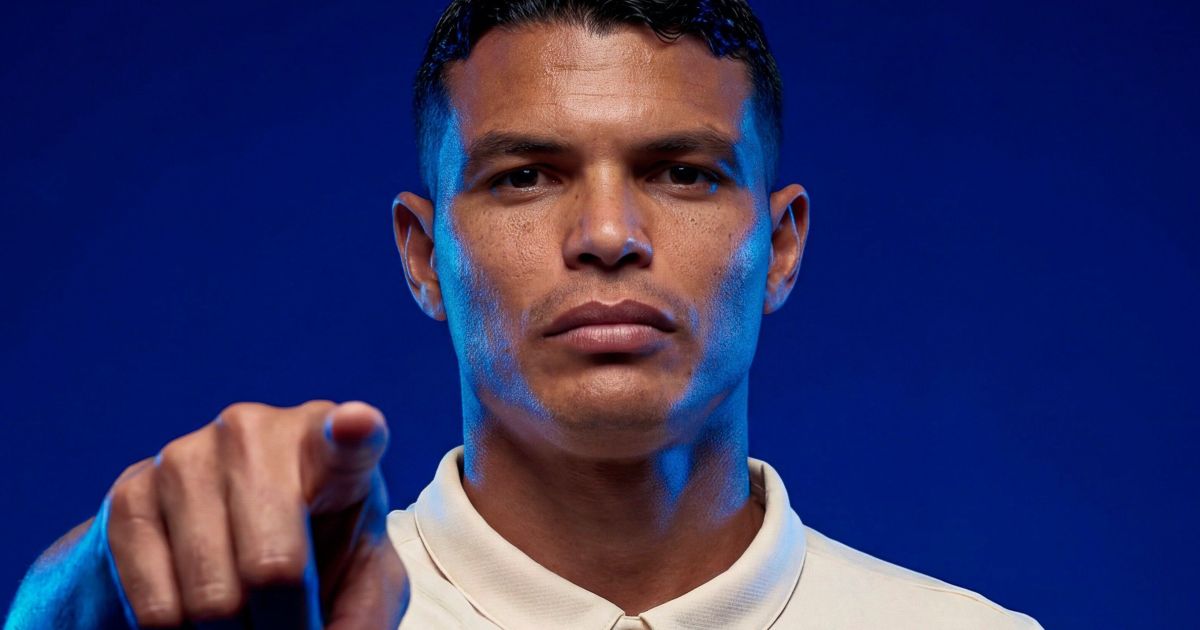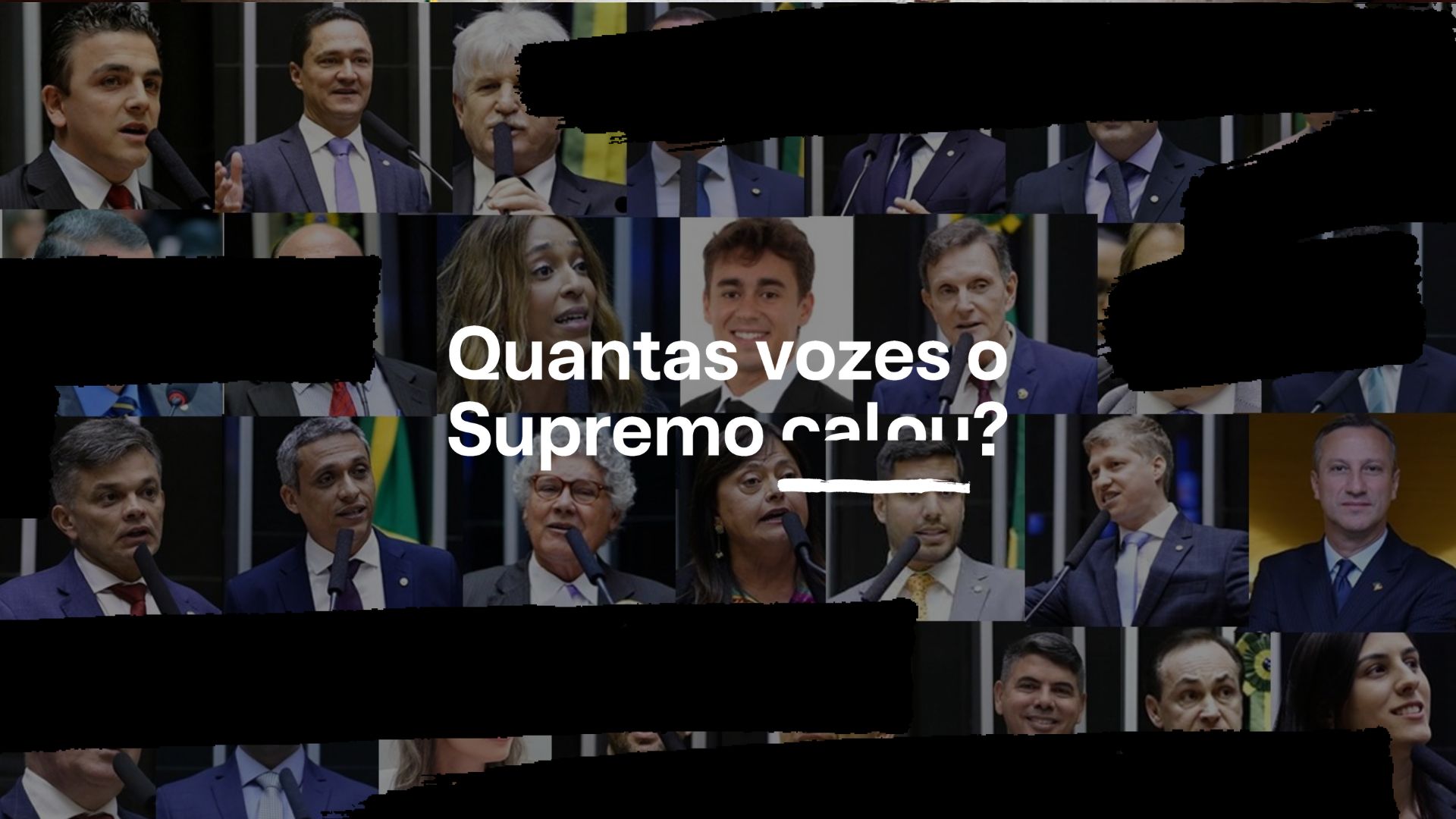Crédito, Arquivo Nacional
- Author, Carolina Unzelte
- Role, De São Paulo para a BBC News Brasil
A recente condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por uma tentativa de golpe vem sendo rodeada, desde quando ele ainda estava sendo julgado no Supremo Tribunal Federal (STF), por uma discussão paralela: o pleito por uma anistia a ele, seus aliados e apoiadores.
O texto ainda deve passar por mudanças, e não está claro qual poderá ser seu impacto para o ex-presidente.
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e possível candidato à presidência em 2026, já declarou que conceder anistia a Bolsonaro seria seu “primeiro ato” caso assumisse o Planalto.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, o deputado federal (PL-SP) Eduardo Bolsonaro pressiona o governo americano para que apoie a pauta.
Mas, embora seja tema constante do noticiário atual, a anistia está longe de ser um assunto novo no Brasil.
Do Império às ditaduras do século 20, as anistias foram usadas em vários momentos como ferramenta de governabilidade e acomodação de forças políticas.
O historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), identificou 15 tentativas de golpe no Brasil desde 1889. Seis delas tiveram algum tipo de anistia.
O levantamento do historiador faz parte de seu livro Utopia autoritária brasileira (selo Crítica, Editora Planeta, 2025). A BBC News Brasil tentou entrevista com Fico, mas não houve disponibilidade.
As experiências brasileiras são criticadas por entrevistados pela BBC News Brasil por não “curarem a ferida” de fato — deixando de punir pessoas e instituições que cometeram atos de violência.
Segundo esses especialistas, vários dos processos de anistia no país também falharam em promover um diálogo real e a conciliação entre as partes políticas envolvidas, além de não terem sido divulgados de forma apropriada a ponto destes serem amplamente conhecidos pela população.
“É verdade que o Brasil teve muitas anistias, mas cada uma delas mostra a correlação de forças entre os grupos políticos naquele momento”, afirma Carla Simone Rodeghero, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
A especialista aponta que, em vários capítulos da história brasileira, ideias de conciliação e pacificação foram exaltadas pelas elites para, na realidade, conduzir anistias que evitaram a responsabilização por abusos e violações.
Para entender as críticas aos episódios de anistia no Brasil, vale primeiro olhar como esse tipo de processo ocorreu em outras partes do mundo.
Outras histórias
Na América Latina, Argentina, Chile e Uruguai aprovaram leis desse tipo durante transições de regimes autoritários para a democracia.
Diferente do caso brasileiro, em que o debate sobre anistia se deu em diversos momentos, prolongou-se por décadas e sofreu diversas reinterpretações, nesses países as anistias foram mais pontuais.
Na Argentina, logo após a redemocratização, o governo de Raúl Alfonsín levou a julgamento, em 1985, os nove comandantes das três primeiras juntas da ditadura (1976-1983) por graves e massivas violações de direitos humanos. Cinco foram condenados.
Depois, o Congresso tentou reverter o quadro quando, em 1986 e 1987, aprovou as chamadas leis do Ponto Final e da Obediência Devida. Elas limitavam a responsabilização de militares envolvidos em violações de direitos humanos durante o período.
Mas não foi o fim da história.
Em 2003, o Congresso argentino revogou essas normas, e em 2005, a Suprema Corte confirmou sua inconstitucionalidade. A partir daí, reabriram-se centenas de processos e vários altos comandantes foram condenados, entre eles o general Jorge Rafael Videla, ditador entre 1976 e 1981.
Ele foi sentenciado em 2010 à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Faleceu em 2013, enquanto cumpria a pena.
Já no Chile, a lei de anistia foi decretada em 1978, ainda na ditadura de Augusto Pinochet, eximindo de responsabilidade os autores de abusos cometidos desde o golpe militar de 1973 até a data da promulgação da lei. Apesar de a lei nunca ter sido revogada, o Judiciário reinterpretou certos aspectos dos crimes para julgá-los.
Por exemplo: o desaparecimento forçado passou a ser considerado um crime que não se encerra enquanto a vítima não é encontrada. Assim, como outros crimes que seguiam em curso depois de 1978 e, portanto, não estava coberto pela anistia, decidiu o Judiciário.
Pinochet, inclusive, chegou a ser preso em 1998, acusado de genocídio e terrorismo.
Na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, a França aprovou perdões pontuais — não uma anistia ampla e bilateral — a pessoas que participaram ou colaboraram com a ocupação nazista.
A Espanha teve a Lei da Anistia de 1977, que marcou a passagem da ditadura comandada por Francisco Franco entre 1939 e 1975 à democracia. Foi um perdão tanto para os opositores quanto para os perpetradores do regime.
Já a África do Sul, após o regime do apartheid, criou uma Comissão da Verdade e Reconciliação e concedeu o perdão tanto a representantes do regime quanto rebeldes, mas condicionando-o à confissão dos crimes.
O que em outros países foi uma medida de reparação, no Brasil foi de “impunidade e esquecimento”, avalia Marcelo Torelly, professor da Universidade Católica de Brasília (UCB), se referindo à Lei de Anistia de 1979, que permitiu o retorno de exilados e a libertação presos políticos, assim como o perdão a crimes políticos ou conexos praticados na ditadura.
“Existem diversos tipos de anistia. As anistias dadas ‘em branco’ aumentam a polarização, e a consequência é um ambiente de política nacional ainda mais tensionado, ainda mais deletério”, diz o professor, que estuda justiça de transição (conjunto de medidas judiciais e extrajudiciais que sociedades podem adotar para lidar com violações de direitos humanos ocorridas durante ditaduras, conflitos internos e outros períodos de exceção).
Independente e anistiado
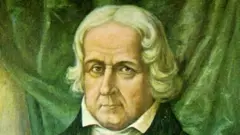
Crédito, DOMÍNIO PÚBLICO
Uma das primeiras anistias no Brasil possibilitou que um exilado virasse depois patrono da Independência.
Em 12 de novembro de 1823, o recém-coroado imperador D. Pedro 1º mandou tropas cercarem a Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro, interrompeu os trabalhos e ordenou prisões.
Entre os alvos estavam José Bonifácio e seus irmãos, Antônio Carlos e Martim Francisco, “os Andradas”. Eles foram detidos e enviados ao exílio na França.
A Constituinte discutia limites ao poder imperial, enquanto a crise política esquentava com uma guerra na imprensa: jornais ligados aos Andradas criticavam o “partido português” no entorno do imperador.
Logo depois da dissolução da Assembleia, o governo imperial, em medida provisória, definiu regras sobre imprensa.
“Excitar os povos à rebelião” e “atacar a forma de governo” passaram a ser puníveis com exílio e multas — uma base legal que permitia o cerceamento a críticos.
Somente entre 1828 e 1829 os irmãos Andradas conseguiram voltar ao Brasil.
Isso só aconteceu porque, em decreto de 1825, D. Pedro 1º anistiou envolvidos em rebeliões anteriores, “lançando um véu de esquecimento sobre as opiniões passadas”, segundo o texto.
De acordo com o livro História dos Fundadores do Império do Brasil, de Octávio Tarquínio de Sousa, o decreto era parte de um esforço do Império para garantir um “governo central prestigioso, ativo, forte” que aplacasse tensões entre diversos grupos sociais e regiões.
No final dos anos 1820, D. Pedro 1º já estava enfraquecido politicamente e tentava recompor alianças. Assim, era uma boa estratégia reaproximar-se de José Bonifácio, um homem que era requisitado por sociedades científicas e elites e tinha prestígio na Europa.
Após a abdicação de D. Pedro 1º em 1831, Bonifácio chegou a ser nomeado tutor de D. Pedro 2º — um sinal claro de reintegração ao poder imperial. Sua nomeação foi aprovada pelo Senado e pela Assembleia, o que mostra que contava com apoio relevante.
Foi essa “volta por cima” que o alçou à figura de patrono da Independência.
Perdão imperial, perdão republicano
A Constituição de 1824 conferia ao imperador prerrogativas amplas.
A anistia, quando ocorria, era lida como gesto de clemência do soberano, mais do que como reconhecimento de direitos de oposição.
Segundo os especialistas, os perdões eram seletivos: lideranças, geralmente representada por elites, eram reintegradas, mas as bases sociais dos conflitos raramente eram contempladas.
Esse padrão se mostrou quando o Império se viu às voltas com rebeliões regionais.
Um exemplo foi a Guerra dos Farrapos (1835–1845), conflito civil no Rio Grande do Sul liderado por estancieiros e oficiais que proclamaram a República Rio-Grandense e, por um período, a República Juliana em Santa Catarina.
O conflito terminou com o Acordo de Poncho Verde, acompanhado de anistia e integração dos líderes farroupilhas (que conduziram a revolta) ao Exército imperial.
No Norte, a Cabanagem (1835–1840) mobilizou indígenas, negros e outros grupos marginalizados no Grão-Pará em torno de demandas locais, com participação de alguns membros da elite regional.
Foram esses membros da elite os perdoados, que aceitaram uma reconciliação com o Império.
Seguindo o “manual”, a instalação da República, a partir de 1889, também usou da anistia como peça de estabilização.
As anistias da Primeira República (1889-1930) mostram um padrão: o Estado alternava entre repressão forte e perdão condicionado a reintegrações (processos aos quais os anistiados tinham de se submeter).
Para militares que participaram de rebeliões, por exemplo, houve a previsão de afastamento do serviço por dois anos depois do pedido de perdão.
Mesmo depois do período, a anistia era uma escolha do Executivo e poderia não ser concedida.

Crédito, ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Um ano depois da Revolta da Vacina, em 1905, um decreto perdoou quem “teve parte nos sucessos da noite de 14 de novembro de 1904” e ocorrências relacionadas.
Isto é, tanto civis que se rebelaram contra a vacinação obrigatória quanto agentes do governo que reprimiram protestos com violência.
Já em 1910, na Revolta da Chibata, motim de marinheiros liderados por João Cândido contra castigos corporais e racismo na Marinha, um decreto no mesmo ano concedeu anistia aos insurretos em troca da rendição dos navios.
O acordo foi quebrado pelo governo dias depois: prisões, expulsões e mortes de revoltosos se seguiram, episódio hoje lembrado como “anistia traída”.
Quase um século depois, o Congresso restaurou simbolicamente esses direitos e deu anistia póstuma a João Cândido e outros envolvidos.
‘Exceção’
Com o início da Era Vargas em 1930, veio outra onda de anistias.
Após a Revolução Constitucionalista de 1932, derrotada militarmente, veio a anistia de 1934 — que reabriu portas a lideranças paulistas, importantes economicamente, e ajudou a esfriar as tensões.
A mensagem era pragmática: derrotados poderiam voltar ao jogo desde que sob novas regras, as do presidente Getúlio Vargas.
A partir de 1937, o Estado Novo intensificou sua estrutura repressora.
A Constituição autoritária, a Lei de Segurança Nacional e o Tribunal de Segurança Nacional (TSN) formaram um sistema que tipificou como “crimes políticos” uma série de condutas de oposição.
“Os processos são de caráter sumário, assegurada a defesa nos termos da lei, e as decisões têm execução imediata”, escreveu sobre a estrutura o Jornal do Brasil em 1941.
“Compete ao Tribunal […] os crimes políticos e os atos que atentem contra a ordem interna”.
Outros registros da época ajudam a ilustrar como isso funcionava de forma prática.
Em 1940, o mesmo jornal noticiou que “dezenas de pessoas foram denunciadas ao TSN” por tentarem “reorganizar o Partido Comunista do Brasil”.
Quando a Segunda Guerra Mundial caminhava para o fim, com tropas brasileiras regressando da Itália e um novo calendário eleitoral em preparação, houve uma intensa e rápida campanha pela anistia de 1945.
Segundo Carla Simone Rodeghero, da UFRGS, a volta das forças expedicionárias para o Brasil favoreceu a ideia de pátria e união.

Crédito, Getty Images
Comitês femininos, entidades civis e órgãos de imprensa defenderam a anistia como condição para a “pacificação”.
“Quando há um certo afrouxamento desse regime, que é possível a oposição se manifestar, começam a aparecer discursos sobre a necessidade de anistiar esses crimes”, explica Rodeghero.
Ícones de campos opostos, como Luiz Carlos Prestes, liderança comunista, e Armando de Sales Oliveira, liberal, foram convertidos em símbolos de reintegração à vida pública.
No jornal Folha da Manhã, o escritor Jorge Amado — membro do Partido Comunista Brasileiro que, no ano seguinte, tornaria-se deputado federal — defendeu uma “anistia ampla, que seja capaz de fazer esquecer os antigos ressentimentos, medida pacificadora de toda a família brasileira”.
Em abril de 1945, o perdão veio em forma de decreto, abraçando todos os opositores de Vargas, dos comunistas aos integralistas (movimento de extrema-direita inspirado no fascismo europeu).
O texto não incluiu eventuais abusos cometidos pelo próprio regime — mas não houve grande mobilização, nem entre os opositores, para que a ditadura de Vargas fosse investigada e punida.
“Não era a anistia que importava. Mas sim a libertação dos presos. E nós passamos a pedir liberdade para os presos. O importante era abrir as portas das cadeias”, disse Luiz Carlos Prestes segundo o livro Prestes: lutas e autocríticas, de João Quartim de Moraes e Luis Werneck Viana.
‘Ampla, geral e irrestrita’
Décadas depois, a anistia retornou à agenda após a ditadura militar instaurada em 1964.
Em 1970, os jornais já noticiavam os pedidos de anistia aos exilados feitos pela oposição consentida pelo regime, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), dentro do Congresso.
Mais tarde, a partir de 1975, o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA) articulou redes de familiares e ativistas; em 1978, os Comitês Brasileiros pela Anistia (CBAs) nacionalizaram a pauta.
No começo, o vocabulário da “reconciliação” ainda estava presente. Mas houve uma virada semântica.
“A expressão ‘pacificação’ era praticamente o oposto da expressão ‘anistia ampla, geral e irrestrita’. Pacificar está muito associado também a esquecer”, aponta Rodeghero.
Em 1979, o psicanalista Hélio Pellegrino, que também foi opositor do Estado Novo, publicou uma série de artigos no jornal O Pasquim sobre o tema — entre eles, o com título Anistia, anistia, anistia, contrapondo-se à ideia de pacificação e criticando soluções que produzissem “paz de aparência” ao relativizar crimes de Estado.
A Lei de Anistia de 1979, formulada a partir de um texto do governo ditatorial de João Figueiredo, libertou presos, permitiu o retorno de exilados e reintegrou punidos — uma parte positiva da anistia, segundo Torelly.
O problema ficou, no entanto, na extensão do perdão aos chamados “crimes conexos”, definidos pela lei como “crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política”.
Esse texto abriu espaço para uma leitura usada para amparar agentes do Estado, já que seus atos de repressão, como tortura, execuções e desaparecimentos, poderiam ser enquadrados como “crimes relacionados” à luta política.
Foi essa interpretação que consolidou a anistia de 1979 como bilateral: perdoava tanto perseguidos quanto perseguidores.
“Foi quase que um tiro no pé”, diz Rodeghero.
“Os agentes da repressão não foram investigados, sequer reconheciam que tinham cometido algum tipo de crime, mas ainda assim eles foram anistiados. Com a lei, não teve nem o reconhecimento de que os crimes existiram, porém houve o perdão a esses crimes”.
Ontem e hoje
Mais tarde, a Constituição de 1988 estabeleceu novas regras para as anistias.
Se em momentos anteriores essa prerrogativa de perdão ficava na mão exclusiva do Executivo, a nova carta definiu que a anistia é de iniciativa do Legislativo, mesmo que fique sujeita à sanção ou veto presidencial.
“A Constituição de 1988 é absolutamente contrária à anistia para graves violações contra os direitos humanos, como é precisamente o caso da anistia de 1979”, diz Torelly.
A jurisprudência, contudo, manteve a leitura do perdão bilateral.
Em 2010, em uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Supremo Tribunal Federal (STF) recusou o pedido para reinterpretar a Lei de Anistia e para afastar o perdão para crimes comuns praticados por agentes do Estado na ditadura.
A maioria seguiu o voto do ministro relator Eros Grau, que argumentou que a lei resultou de um “acordo político” de transição, não cabendo ao Judiciário contemporâneo reescrever esse pacto.
“É esse modelo que chamamos de ‘anistia de impunidade e esquecimento’, que permeia toda a discussão sobre justiça de transição no Brasil”, diz Torelly.
Ficaram vencidos Ayres Britto e Ricardo Lewandowski (hoje ministro da Justiça e da Segurança Pública).
A discussão sobre punição por crimes cometidos durante a ditadura voltou ao STF com o sucesso do filme vencedor do Oscar Ainda Estou Aqui, que narra a história verídica da família do ex-deputado federal Rubens Paiva, assassinado sob tutela do Estado.
Com isso, a Corte aceitou recursos para reabrir o debate sobre se tortura praticada na época ainda deve ser passível de punição penal, independente de quanto tempo tenha se passado — isto é, ser um crime imprescritível.
As ações aguardam julgamento.
Houve tentativas de lidar com essas feridas em outras esferas além do judiciário, como a Comissão Nacional da Verdade (CNV), criada durante o governo de Dilma Rousseff para apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988 — e que deu mais atenção aos abusos cometidos durante a última ditadura (1964 a 1985).
Apesar de avaliar que a CNV foi criada tarde e que teve que enfrentar bastante resistência na sociedade, Torelly afirma que CNV cumpriu três feitos principais: reforçou a responsabilização por violações; promoveu normas internacionais de direitos humanos; e enfrentou o silêncio militar sobre o passado autoritário.
“A justiça de transição não dá conta de mudar 100% a sociedade. Ela é um remédio para uma doença”, diz o professor da UCB.
“O fato relevante para mim é que as pesquisas mostram que o apoio à democracia é maior agora do que antes e que as instituições deram conta mesmo do violentíssimo estresse do governo Bolsonaro”.

Crédito, EPA
As discussões atuais em torno da anistia a envolvidos nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, no entanto, são muito distintas das anistias que a história do Brasil nos conta, diz Carla Rodeghero.
“Não é a mesma coisa anistiar atos punidos por legislações de exceção, caso típico de ditaduras, e delitos praticados em normalidade democrática, onde todos os canais estão abertos”, aponta a historiadora.
Mesmo assim, é possível aplicar aprendizados do passado no presente e no futuro.
“Não existe apenas um tipo de anistia, existem anistias possíveis”, diz Torelly, que, para o caso do 8 de janeiro, defende revisar penas aplicadas, por exemplo, por depredação de patrimônio público quando consideradas exageradas.
Além disso, para quem cometeu infrações sem violência, ele propõe combinar redução de pena com serviços comunitários e estudos cívicos (com conteúdo sobre, por exemplo como funciona o Judiciário, como se fazem leis e por que certas condutas são consideradas criminosas numa democracia).
“Dizer ‘está tudo bem, vá para casa’ não é reconciliação”, diz.
“Isso é fazer as pessoas pensarem que elas estão legitimadas a agir fora do ordenamento jurídico, porque eventualmente elas vão receber o perdão de alguém com poder. Seja o Congresso Nacional, seja o próximo presidente eleito, seja o Judiciário em certas composições.”
Fonte.:BBC NEWS BRASIL