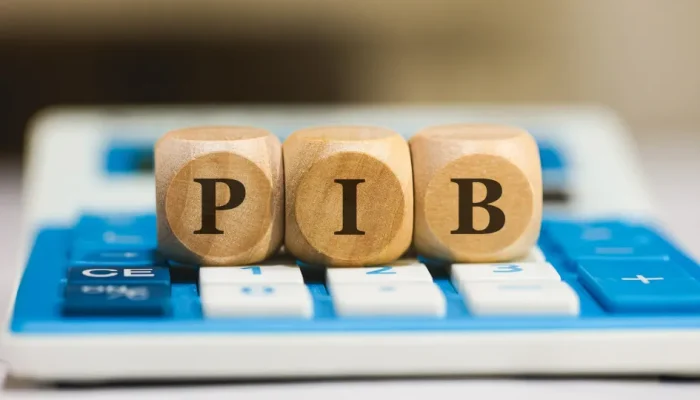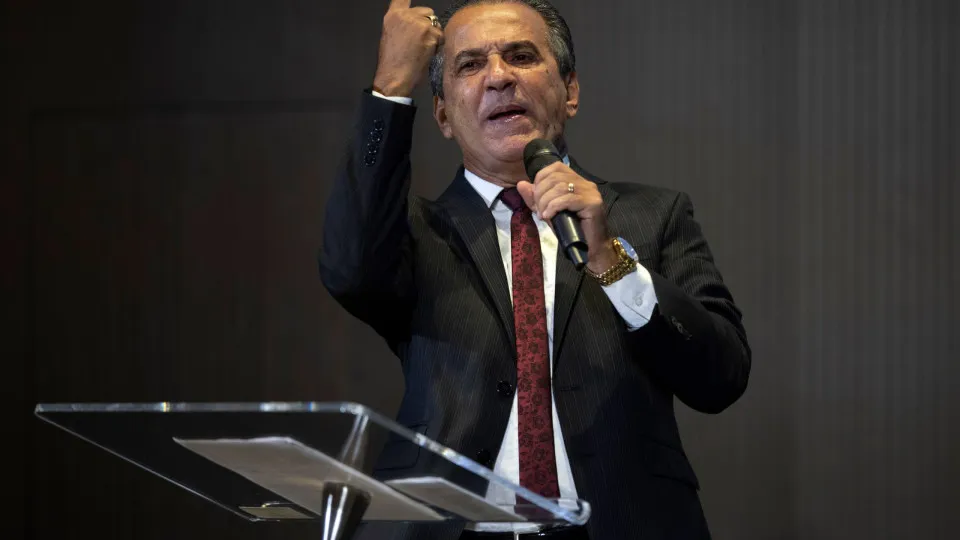[RESUMO] Em texto que resume curso do Instituto Vida Urbana, autor analisa problemas urbanos do Brasil e apresenta medidas que poderiam tornar cidades do país mais acessíveis, diversas e dinâmicas.
“Este livro é um ataque aos fundamentos do planejamento urbano e da reurbanização ora vigentes.” É assim que Jane Jacobs inicia “Morte e Vida de Grandes Cidades”, livro que se tornou uma das maiores referências do urbanismo mundial. Apesar de ter sido escrito nos anos 1960, a frase se refere a um tipo de planejamento urbano que ainda está presente e afeta a vida de milhões de brasileiros.
Não é difícil elencar os problemas que as cidades brasileiras enfrentam hoje. Em São Paulo, as pessoas gastam em média duas horas e 25 minutos por dia em seus deslocamentos. A cada 15 minutos, um brasileiro morre em acidente de trânsito, e a poluição do ar mata 50 mil pessoas por ano. Cerca de 16 milhões de brasileiros, o equivalente a toda população do estado do Rio de Janeiro, moram em favelas. São 49 milhões sem coleta de esgoto adequada. Temos um número enorme de imóveis abandonados, áreas inseguras, parques e praças mal cuidados, alagamentos e enchentes.
Na tentativa de explicar os problemas, é comum a narrativa de que as cidades “não tiveram planejamento”, sendo esta a origem das mazelas urbanas brasileiras. No entanto, nada poderia ser mais distante da verdade: nossas cidades foram e são planejadas há décadas, e muitos dos nossos problemas são resultado justamente da forma como foram planejadas.
A solução não é simples. Muitos advogam que deveríamos simplesmente desistir das grandes cidades e “dividi-las” em cidades médias e pequenas ou então em subúrbios com condomínios espaçosos e arborizados. Outros, ainda mais radicais, sugerem que sejam construídas novas cidades “do zero”, mais organizadas, eficientes e, é claro, planejadas.
Essa foi a lógica fomentada por diversos pensadores a partir do século 19, diante do caos urbano gerado pela Revolução Industrial na Europa, quando as cidades cresceram exponencialmente, atraindo moradores do campo com condições muito precárias de moradia, transporte e higiene. As mazelas eram ainda maiores que as atuais e havia uma alta taxa de mortalidade em função da transmissão de doenças no ambiente insalubre. Cidades se tornaram um problema a ser resolvido.
Entretanto, quando pensamos em fugir das cidades ou “resetá-las”, acabamos perdendo de vista um entendimento fundamental: por que, afinal, existem cidades? Por que as pessoas, em algum momento da história, decidiram que seria uma boa ideia morar perto umas das outras e concentrar sua produção e suas trocas, em vez de se espalharem no espaço abundante disponível?
Segundo Edward Glaeser, economista e professor da Universidade Harvard, “as cidades são a melhor invenção da humanidade”. Isso porque a proximidade entre as pessoas viabiliza o que chamamos de ganhos de escala e de aglomeração. Pela quantidade de pessoas e possibilidades de interação entre elas, cidades oferecem oportunidades de produção, emprego, cultura e educação que vilarejos jamais poderiam oferecer.
É muito comum, por exemplo, ver jovens de cidades pequenas e médias se mudando para uma cidade maior em busca de melhor educação ou trabalho. Isso não ocorre por acaso: grandes cidades permitem maior especialização de empregos e tendem a aumentar a produtividade relativa da sua população.
No outro lado da moeda, empresas se instalam nas cidades em busca de mercados consumidores e recursos humanos. A concentração de pessoas multiplica as oportunidades. O mesmo motivo pelo qual o “trader” vai morar em São Paulo, centro financeiro do país, foi o que levou João Gilberto da Bahia ao Rio de Janeiro na época do surgimento da bossa nova.
Sem os grandes centros urbanos, o modo como vivemos, aprendemos, nos relacionamos, trabalhamos e consumimos hoje seria inviável. Nós precisamos das cidades. Porém, na tentativa de “consertar” os problemas da cidade industrial, o planejamento urbano desde o século 19 adotou uma abordagem descolada da realidade. Isso nos afeta até hoje.
Algumas ideias pareciam promissoras e convincentes. O conceito da cidade jardim prometia um equilíbrio entre as oportunidades da vida urbana e a tranquilidade do campo (qualquer semelhança com os loteamentos homônimos, em São Paulo, não é mera coincidência). O modernismo, por sua vez, prometia organização e eficiência, tendo como seu maior laboratório a capital federal, Brasília. O zoneamento prometia controle e ordem, separando usos e limitando alturas e densidades.
Na mesma época, houve o advento do automóvel como uma tecnologia que permitiria um redesenho da configuração urbana tradicional. Impulsionou-se a ideia de que era preciso afastar as pessoas e as atividades umas das outras para garantir a salubridade nas cidades. O carro era visto como um modo de transporte “ideal”, e o planejamento urbano passou a priorizá-lo.
As consequências indesejáveis dessas utopias urbanas se refletem até hoje. Se as calçadas e ciclovias do seu bairro são ruins e perigosas e você sente que precisa usar o carro até para deslocamentos curtos, talvez seja porque a sua cidade foi planejada com foco no automóvel. Consequentemente, você e os seus vizinhos perdem horas no congestionamento, e a “solução” que têm se adotado de construir viadutos ou alargamentos viários servem como gasolina na fogueira, incentivando cada vez mais carros.
Se, ao caminhar pela cidade, você se depara com uma sequência de muros e grades de condomínios, sem vida nas ruas, talvez seja porque a sua cidade decidiu restringir os usos dos lotes e exigiu recuos que prejudicaram a conexão dos prédios com a calçada.
É comum aos brasileiros que têm o privilégio de viajar para outras cidades, como Buenos Aires, Paris ou Nova York, vivenciarem uma experiência urbana completamente diferente, caminhando por horas sem reclamar. Afinal, boas calçadas, prédios bem conectados à rua, pessoas circulando e uma variedade de atividades acontecendo são elementos que tornam uma cidade bem mais interessante para o pedestre —e que nosso planejamento restringiu nas últimas décadas.
Se a moradia na sua cidade é tão cara que você se vê obrigado a morar em um bairro mais distante (e consequentemente a ter um carro assim que possível), talvez seja porque as restrições de ocupação nos lotes privados, definidas pela regulação do uso do solo, impediram que a oferta de habitações acompanhasse a demanda crescente. Quando o núcleo da cidade é impedido de crescer, as pessoas interessadas em morar lá não deixam de existir, mas se instalam em locais mais distantes.
Brasília é um exemplo claro. Com o seu urbanismo modernista preservado no Plano Piloto, com vastas áreas verdes e muito espaço entre os prédios, morar no centro da cidade, perto dos empregos, é um privilégio da minoria. O resultado é um gasto muito alto com infraestrutura, uma dificuldade em viabilizar transporte coletivo de qualidade, mais carros, maiores tempos de deslocamento e menos qualidade de vida.
O próprio surgimento das favelas no Brasil, no século 20, foi influenciado por uma sucessão de restrições a outras alternativas de moradia para a classe trabalhadora. O desejo de “organizar” a cidade culminou em leis e atos que, no fundo, transpareciam um desejo de excluir e afastar os mais pobres. Estes, necessitando acessar os empregos nas cidades, por uma questão de sobrevivência, começaram a construir moradias informais e precárias, muitas vezes em áreas de risco. Assim, até hoje temos uma cidade formal, onde se aplicam regras, leis e planos, e uma cidade informal, esquecida, que cresce como consequência da anterior.
Jane Jacobs, em “Morte e Vida de Grandes Cidades”, representou o início de uma quebra de paradigmas ao criticar os ideais do modernismo, da cidade jardim, do zoneamento e do rodoviarismo. Hoje há dados e evidências suficientes para saber que ela —e outros urbanistas que a respaldaram posteriormente— estavam certos.
Cidades devem ser planejadas para as pessoas, e a qualidade dos espaços públicos é fundamental para a diversidade e a vitalidade. A densidade urbana é importante para otimizar deslocamentos e serviços, e ampliar o acesso às oportunidades deve ser uma prioridade. Os planos não podem continuar ignorando a cidade informal e muito menos obrigar essas pessoas a se deslocarem para ainda mais longe. Essas áreas deveriam ser prioritárias na agenda urbana.
Apesar desse entendimento já estar consolidado, continuamos, em muitas decisões de planejamento, seguindo os preceitos que geraram o caos que tanto nos insatisfaz. Esse caos não é fruto do acaso, mas uma consequência de um modelo de planejamento que estava fadado ao fracasso, como Jane Jacobs alertou mais de 60 anos atrás.
Em vez de o planejamento urbano focar o que é inerente da atuação do poder público, como os espaços públicos e a regularização de áreas informais, a discussão nos planos diretores é focada na altura de edifícios em terrenos privados nos bairros mais ricos das cidades. Essa visão precisa ser revertida.
Precisamos de um planejamento focado em garantir a qualidade dos espaços públicos e capaz de gerir os espaços privados de forma flexível, acomodando as mudanças das demandas dos moradores. Precisamos de moradia adequada, urbanizando favelas e incorporando-as ao resto da cidade. Precisamos de mais pessoas e menos carros nas ruas. Precisamos de mais do que um conjunto de regras e intenções que é refeito a cada dez anos sem avaliar o que deu certo e o que deu errado. Precisamos de métricas, dados e resultados, para que possamos avançar com mudanças concretas.
Fonte.:Folha de S.Paulo