
- Author, Edison Veiga
- Role, De Bled (Eslovênia) para a BBC News Brasil
Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos e idealizador da Academia Brasileira de Letras (ABL), não era branco — como muitas imagens em livros escolares o retratam.
Assim como Chiquinha Gonzaga, um dos pilares mais importantes da música brasileira, que já foi interpretada por atrizes brancas.
“Toda pessoa afro que, ao longo da história, foi muito importante para a humanidade, acabou embranquecida ou neutralizada”, diz à BBC News Brasil o filósofo e teólogo David Santos, frade franciscano e fundador da organização Educafro Brasil.
Para a pesquisadora em política públicas Roberta Basilio, a omissão da origem negra de personalidades históricas tem a ver com uma “necessidade de negar que uma pessoa negra possa ser tão genial”.
“O racismo precisa embranquecer as personalidades porque assim fica ‘mais fácil’ reconhecer a genialidade, o talento e a potência dessas pessoas”, diz Basílio, professora na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).
Especialistas entrevistados pela BBC News Brasil alertam para os limites de se usar termos e discussões contemporâneas sobre raça ao falar de histórias de outras épocas, quando muitos desses termos nem existiam.
Mas eles também apontaram para a importância desse tipo de resgate por movimentos antirracistas atuais — até porque muitas dessas figuras sofreram racismo em vida.
A seguir, confira histórias de personalidades famosas que foram “embranquecidas” ou tiveram sua origem negra pouco enfatizada ao longo do tempo.
Machado de Assis
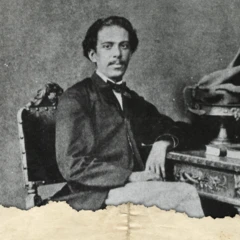
Crédito, Arquivo Nacional/BBC
Quando Machado de Assis (1839-1908) morreu, sua certidão de óbito afirmava que sua cor era “branca”.
E foi com tons clareados que sua imagem povoou contracapas de suas obras e páginas de apostilas escolares durante todo o século 20.
Sabe-se que ele era filho de pai pardo, alforriado, e mãe branca.
Em vida, era considerado mulato. Ou “pessoa de cor”, como se dizia comumente na época.
Isso é possível de notar pelas poucas fotografias do escritor e também por cartas da época.
Em 6 de junho de 1871, por exemplo, o poeta português Gonçalves Crespo (1846-1883) redigiu uma missiva ao brasileiro na qual afirmou que nutria “uma certa simpatia” por ele “quando me disseram que era… de cor como eu”.
No obituário publicado no Jornal do Commercio — escrito pelo jornalista e escritor José Veríssimo (1857-1916), que era seu amigo —, Assis foi definido como “mulato”.
Em conferências proferidas entre 1915 e 1917 sobre o legado de Machado, o jornalista, advogado e crítico Alfredo Pujol (1865-1930) pontuou que o escritor era filho “de um casal de gente de cor” e teria sofrido “agruras” por conta de “preconceitos de cor”.
E na biografia escrita por Lúcia Miguel Pereira (1901-1959), publicada em 1936, o escritor é chamado de “mulatinho”, “mestiço” e “pardinho” pela autora.
Gradualmente, contudo, Machado de Assis foi “embranquecido” em imagens reproduzidas em livros, inclusive os didáticos.
Há, no entanto, esforços para tentar reverter esse processo.
Em 2021, a Universidade Zumbi dos Palmares lançou uma campanha com um abaixo-assinado pressionando que as editoras deixassem de imprimir e comercializar livros em que o escritor aparecesse como branco.
Lima Barreto
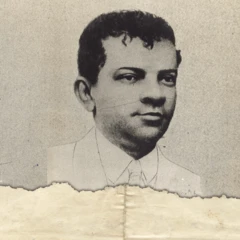
Crédito, Arquivo Nacional/BBC
Outro exemplo importante é o escritor Lima Barreto (1881-1922).
Filho de pais negros e neto de escravizados, ele sofreu preconceito ao longo da vida e parecia ter consciência racial — demonstrando isso em sua obra.
O romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha é considerado de teor autobiográfico por retratar preconceitos raciais e sociais.
Conforme revelado em seu póstumo livro Diário Íntimo, quando tinha 23 anos, ele anotou que tinha a ideia de escrever um “romance em que se descrevam a vida e o trabalho dos negros numa fazenda”.
Barreto afirmou que pretendia fazer um “Germinal negro”, aludindo ao clássico romance Germinal, do francês Émile Zola (1840-1902).
Na biografia Lima Barreto: Triste Visionário, a antropóloga Lilia Moritz Schwarcz destaca que os conflitos de cunho racial estavam sempre em evidência nos escritos de Barreto, seja nas tramas de seus livros, seja em suas anotações pessoais.
A pesquisadora relata que quando o escritor, adolescente, ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e se viu como único afrodescendente em uma turma formada por brancos, filhos da elite, adquiriu consciência de sua negritude — e de como o racismo operava.
Livros como o de Schwarcz têm contribuído para dar a devida contextualização racial a essas personalidades brasileiras.
Chiquinha Gonzaga

Crédito, Arquivo Nacional/BBC
Para a pesquisadora Roberta Basilio, a mídia historicamente teve um papel nos “embranquecimentos” — como na escolha de atores e atrizes com peles mais claras que as pessoas reais retratadas nas novelas.
Basílio cita como exemplo a minissérie da Globo que contou a história de Chiquinha Gonzaga (1847-1935) em 1999.
Na trama, a musicista foi intepretada por duas atrizes brancas: Gabriela Duarte, quando jovem, e Regina Duarte, mais velha.
Chiquinha era filha de uma negra liberta com um militar branco.
Ela não só tinha consciência de sua origem racial como se envolveu intensamente na luta abolicionista durante a segunda metade do século 20.
A musicista tinha muitos amigos negros e vendia partituras para comprar cartas de alforria — e, assim, libertar escravizados.
Mas não há registros de que se via como negra. Em sua época, tinha a pele considerada morena.
Nilo Peçanha

Crédito, Arquivo Nacional/BBC
Até hoje, o Brasil só teve um presidente considerado negro: Nilo Peçanha (1867-1924).
Vice de Afonso Pena (1847-1909), assumiu o cargo quando este morreu por pneumonia e presidiu o país entre 1909 e 1910.
Fato é que, em seu tempo, oposicionistas classificavam o presidente como mulato como forma de desaboná-lo.
Traços negros eram enfatizados em charges para atacá-lo.
Na juventude, Nilo Peçanha participou da luta abolicionista e da campanha republicana.
Senador de 1997 a 1999, o ator e intelectual negro Abdias do Nascimento (1914-2011), autor de obras como O Genocídio do Negro Brasileiro, enalteceu políticos afrodescendentes em seu discurso de posse e se lembrou da omissão da origem negra de Peçanha ao longo da história.
Nascimento contou que, certa vez, chegou a aventar a possibilidade de escrever ele próprio um livro sobre “os grandes africanos que ajudaram a construir este país”. Para tanto, procurou um descendente de Peçanha.
“Resultado: fui repreendido por esse membro da família, que não admitia sequer a mestiçagem [dele], considerando tal versão uma infâmia”, proferiu, em seu discurso.
Na fala, Abdias do Nascimento não se limitou a abordar a negritude de Nilo Peçanha.
Ele recordou outros políticos que, para ele, seriam considerados negros. E citou dois também ex-presidentes que, segundo suas pesquisas, teriam ancestralidade africana: Rodrigues Alves (1848-1919), que presidiu o país de 1902 a 1906; e Tancredo Neves (1910-1985), o primeiro civil escolhido para comandar o país após a ditadura, que morreu antes de tomar posse.
Para Nascimento, os biógrafos de Rodrigues Alves se fixaram na nacionalidade portuguesa do pai do ex-presidente para ignorar a sua negritude, origem de sua mãe afro-brasileira, Isabel Perpétua.
Sobre Tancredo Neves, Nascimento disse que não seria “leviano” afirmar que em suas “veias” corria “também o nobre sangue africano”.
Para tanto, dizia levar “em consideração seus traços fisionômicos, assim como de muitos de seus familiares”.
Abdias do Nascimento conhecia Tancredo Neves pessoalmente. Ele era deputado federal nos anos 1980 e integrou o colégio eleitoral que escolheu o mineiro para ser presidente na redemocratização.
Pedro Lessa
Um pouco depois da presidência de Nilo Peçanha, o Supremo Tribunal Federal (STF) teve seu primeiro membro afrodescendente, o jurista Pedro Lessa (1859-1921).
Ele se considerava mulato e foi nomeado em 1907.
No entanto, sua ascendência negra era tabu mesmo dentro da família.
Em reportagem publicada em 2014 pela Folha de S. Paulo, uma de suas bisnetas, Lúcia Lessa, contou que só na adolescência soube que o ilustre antepassado tinha essa origem — e que, quando perguntada sobre, a mãe tentou desconversar.
“Uma vez, minha irmã perguntou à minha mãe se ele era negro. Minha mãe tentou desconversar. Só com o tempo fomos entendendo isso”, contou a bisneta ao jornal.
Presidente do Brasil de 1919 a 1922, o jurista Epitácio Pessoa (1865-1942) era um dos muitos que debochavam das raízes africanas de Lessa com frases e termos racistas.
Os irmãos Rebouças
Os irmãos André Rebouças (1838-1898) e Antônio Rebouças (1839-1874) são considerados os primeiros engenheiros negros do país e ganharam notoriedade profissional em vida.
André Rebouças foi um ativo militante pelo fim do regime escravocrata, integrando a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão e a Confederação Abolicionista.
Também foi um dos criadores dos estatutos da Associação Central de Emancipação dos Escravos.
Nessa época, viajou aos Estados Unidos — onde, segundo relatos, sofreu preconceito racial.
Mais tarde, nos anos 1890, trabalhou em Luanda, na Angola, por 15 meses. Também morou em Moçambique e na atual África do Sul.
Só então passou a entender o continente africano como sua “terra de origem” e a se declarar como homem negro.
Essa experiência é contada no livro Cartas da África – Registro de Correspondência 1891-1893, organizado pela historiadora Hebe Mattos, professora na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Nessas cartas, Rebouças refere-se a si próprio como “africano” e como “Negro André”, como constatou a historiadora.
Já Antônio especializou-se em construção de portos marítimos e estradas de ferro na Europa, para onde foi em 1858 — ficaria quatro anos aprendendo técnicas inovadoras no velho continente.
Voltou ao Brasil e planejou obras importantes, como a ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá. Mas morreu cedo, aos 35 anos, vítima de malária — antes, inclusive, do auge da luta abolicionista.
De acordo com Hebe Mattos, a questão racial permeou a trajetória da família Rebouças — que, apesar de ter circulado na elite da época, sofria preconceito, com comentários racistas e xingamentos evocando sua cor da pele.
A mãe dos irmãos Rebouças era branca, mas o pai deles era filho de um alfaiate com uma mulher que algumas fontes acadêmicas dizem ter sido uma escravizada alforriada, outras nascida livre.
O político e advogado Antônio Pereira Rebouças (1798-1880) pisava em ovos ao se posicionar na alta sociedade soteropolitana, que frequentava.
Defendia medidas que diminuíssem a escravidão do Brasil, como o fim do tráfico negreiro, mas tomava cuidado em seus posicionamentos porque temia ser visto como radical.
Ele se definia como “liberal moderado” e afirmava acreditar na igualdade dos direitos civis para todos os brasileiros — deixando implícito que a cor da pele não deveria ser empecilho. Mas era contra revoltas e motins, argumentando que as mudanças deveriam vir pela política.
André Rebouças, que viu o Brasil pós-abolição, teve um fim de vida melancólico, decepcionado. Ele argumentava que sem a democratização no acesso a terras e propriedades, o problema racial do país não seria resolvido.
O risco do anacronismo
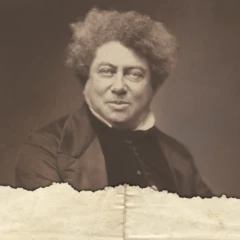
Crédito, Getty Images/BBC
Em outras partes do mundo, a origem negra de personalidades notáveis também vem sendo resgatada.
Autor de O Conde de Monte Cristo e de Os Três Mosqueteiros, o francês Alexandre Dumas (1802-1870) era neto de uma ex-escravizada e, nos últimos anos, tem tido sua negritude destacada por movimentos antirracistas.
Seu bisavô materno era um africano que foi sequestrado de sua terra natal e acabou criado na corte como afilhado da então imperatriz.
Mas faz sentido colocar a questão da negritude olhando para personagens que talvez não questionassem isso — ou, se o faziam, era com outros critérios que não os atuais?
“Todos eles são vítimas de uma sociedade que nunca trabalhou o letramento racial como proposta do reino de Deus. Eles não escolheram negar sua identidade afro”, diz o frade franciscano e teólogo.
“A sociedade de seu tempo impôs a eles essa postura. Resgatá-los, hoje, é nossa missão.”
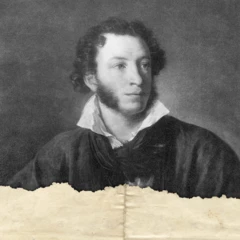
Crédito, Getty Images/BBC
O historiador Philippe Arthur dos Reis, professor na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), faz uma ressalva: ele considera a palavra “embranquecimento” inadequada nesta discussão.
“Por causa da própria concepção de negritude e de branquitude, que se diferencia com o passar do tempo”, aponta.
A questão do racismo, lembra ele, é um problema da modernidade.
A linguista Ana Azevedo Bezerra Felicio, pesquisadora, ativista e autora do livro O amor não está à venda, ratifica isso. Ela aponta que “negro” é uma categoria surgida com os movimentos antiescravagistas.
“É muito importante olharmos para a diversidade no passado para refletirmos como a nossa sociedade veio a ficar dividida deste jeito, mesmo que essas divisões [étnicas] não fossem tão relevantes no passado”, diz ela.
Para Roberta Basílio, o resgate da negritude de personalidades já consagradas, como Machado de Assis, tem um efeito importante porque as pessoas já reconhecem “o talento e a inteligência” dessas figuras.
Em outras palavras, parte-se da obra já celebrada para acrescentar o lembrete: foi uma pessoa negra quem fez.
“Mostramos que somos potência. E eu digo nós porque sou uma mulher negra. E isso tem um peso muito grande para nós, como representatividade”, frisa ela, lembrando que, em seus tempos de escola, os protagonistas da história eram sempre brancos e os negros, inferiorizados.
Para Reis, trazer à tona a identidade negra de tais figuras importantes tem um impacto “simbólico” e “afetivo”.
“Mas a simples menção a isso não resolve o problema. Tem de ter a efetiva transformação dos espaços”, cobra o professor.
Arte por Caroline Souza, da Equipe de Jornalismo visual da BBC News Brasil
Fonte.:BBC NEWS BRASIL












