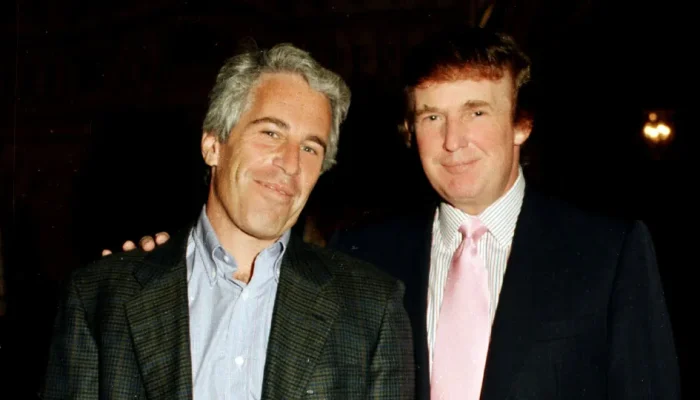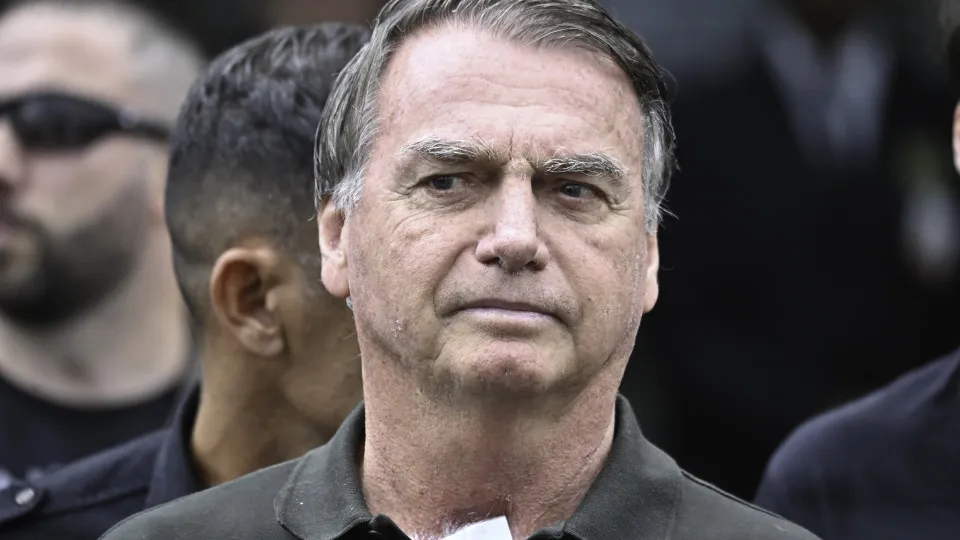Em 2020, o movimento Vidas Negras Importam — importado do Black Lives Matter dos EUA — ganhou força no Brasil.
Enquanto isso, naquele mesmo ano, mais de um milhão de mulheres deixaram de realizar a mamografia de rastreio por causa da pandemia de Covid-19.
O resultado? Um aumento significativo na taxa de mortalidade por câncer de mama devido ao diagnóstico tardio. E dentro dessa taxa, mulheres negras morreram três vezes mais que mulheres não negras.
Vidas negras realmente importam? Se a saúde é um direito universal de todas as pessoas, essa conta não fecha. Até porque não dá pra falar de câncer de mama e mulheres negras apenas pela perspectiva do diagnóstico e tratamento.
A interseccionalidade atravessa toda a jornada: racismo estrutural, desigualdade socioeconômica, machismo. É como se o diagnóstico pesasse três vezes mais para uma mulher negra.
+Leia também: Desigualdade racial atrapalha o diagnóstico e o tratamento do câncer
Minha jornada

Eu me tornei paciente oncológica em 2016, aos 29 anos, quando recebi o diagnóstico de câncer de mama. Desde então, me tornei ativista na causa — a princípio contando minha história como forma de inspirar outras mulheres. Depois, com um olhar mais político, voltado especialmente para as mulheres negras, com a criação da plataforma de informação Se Cuida, Preta.
Durante muito tempo estive sozinha. Sozinha como mulher negra com câncer de mama, ativa nas redes sociais e tentando abrir espaço para uma conversa sobre o tema.
Nesse processo, acabei me tornando uma referência e acolhendo muitas outras mulheres negras que também buscavam respostas e pertencimento. É por isso que falo: representatividade tem a ver com se ver e se reconhecer. Me incomoda que, sendo o Brasil um país com 55,5% da população negra, a gente ainda não se veja em campanhas, debates e congressos sobre câncer de mama.
A luta pela equidade racial na saúde
No começo de outubro, vi a divulgação de um evento sobre o tema promovido por uma grande revista nacional. Ao rolar pela programação, me deparei com uma mesa composta apenas por pessoas brancas — pacientes, mediadoras e profissionais de saúde.
Aquilo me deu um gatilho. E me fez entender, mais uma vez, que essa busca por equidade racial na saúde é uma caminhada solitária. Que estamos falando entre nós, enquanto quem deveria ouvir, não ouve. Não vê. Ou finge que não vê — para não precisar abrir mão dos próprios privilégios.
Uma amiga me disse que ter as lentes do letramento racial é uma faca de dois gumes: fortalece, mas também dói. Dói lidar todos os dias com o racismo, o descaso e o sofrimento que ele causa.
Informar para transformar
Quando criei o Se Cuida, Preta, queria mostrar às mulheres recém-diagnosticadas que existiam outras mulheres negras passando pela mesma situação — com força, coragem e vontade de viver.
Mas depois de ter sido atravessada por tantas histórias, algumas mais difíceis que outras, como episódios de racismo em consultórios e salas de espera, percebi que era preciso ir além: fazer um trabalho educativo, informando sobre o câncer de mama, níveis de prevenção, diagnóstico precoce e direitos das pacientes.
O compromisso coletivo contra o racismo na saúde
É preciso reconhecer o problema e agir para transformar a realidade. Mas essa mudança só acontece com o envolvimento de todos — não apenas de nós, mulheres negras, que seguimos lutando para sobreviver.
E quando falo sobre sobrevivência, não me refiro apenas a um diagnóstico de câncer: falo da luta diária que atravessa a vida da maioria de nós.
Estamos em 2025 e aquela onda que teve seu pico em 2020 não pode se transformar numa marola. Ou você é antirracista e aliado de verdade, ou continuaremos parados, sem conseguir mudar o sistema.
*Carolina Magalhães, 38 anos, é mãe, mulher negra de Salvador (BA), fundadora da plataforma de informação Se Cuida, Preta, membro da Rede de Pacientes Negros do Oncoguia, estudante de projetos sociais e políticas públicas e ativista pela equidade racial na saúde e no enfrentamento ao câncer de mama.
Compartilhe essa matéria via:
Fonte.:Saúde Abril